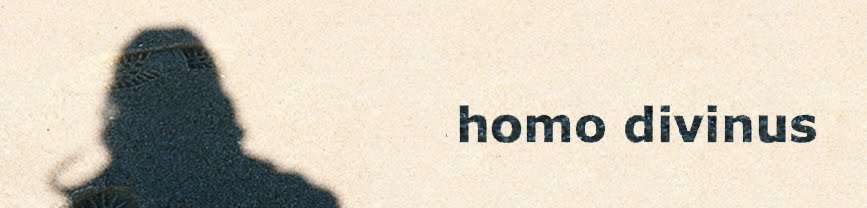Tenho vindo a elaborar uma antologia musical, segundo as minhas obsessões, dividida em quatro partes: a clássica, a contemporânea, o jazz e a pop/rock.
No meio do meu esforço classificativo, ter-me-á dado, creio, para a taxionomia (e muito bem) e concluí que a primeira divisão a operar em relação à música é entre dois grupos: a música apolínea e a dionisíaca.
Os conceitos não são meus, são do Nietzsche (A origem da tragédia). Rapidamente, Apolo representa a beleza, a harmonia, a perfeição e, consequentemente, o divino no seu esplendor. Em contrapartida, Dionysos é um deus humano (é o único deus grego filho de uma mulher mortal). Como tal, representa a imperfeição e, sobretudo, a dilaceração. É, assim, construído em alternância de dissonância e harmonia e descrito através de diversas oposições: o bem e o mal, o belo e o feio, a violência e a calma, o ruído e o silêncio (se pensarmos na música), etc..
Com base numa conceptualização como esta, podemos deduzir que o dionisíaco se aproxima do acto de realizar a arte, implicando incluir o próprio apolíneo (o belo perfeito) como resultado periódico desse esforço, enquanto o apolíneo se encontra mais perto do conceito de obra (esvaziando do processo artístico tudo o que nele existiu de imperfeição).
No domínio do apolíneo, reina o Bach. E toda a música divina. De uma maneira geral, agrupa todo o período clássico, embora o romantismo final já se torne um pouco dionisíaco (o Beethoven tardio, por exemplo), culminando com o aparecimento do Mahler. Assim como inclui parte da grande arte posterior: os minimalistas (apesar de, por vezes, não parecer), o jazz “nórdico” (Gustavsen), o fronteiriço entre o jazz e a música contemporânea (Bjørnstad) e a pop menos progressiva (onde proliferam os “cançoneteiros” – Llach incluído – e a pop sinfónica – os Yes e os próprios Pink Floyd).
No domínio do dionisíaco, reina o Jarrett. E toda a música humana. A começar pelo jazz em geral (Bley), a continuar na música contemporânea, também de uma maneira geral (de Rachmaninov a Górecki), e a acabar na pop/rock progressiva, sobretudo do Peter Hammill (e dos Amon Düül II – falando dos que seleccionei para a antologia).
Um parêntesis: não incluo os serialistas, dodecafónicos e similares neste grupo dionisíaco porque não há neles dilaceração entre a harmonia e a dissonância: a dissonância é homogénea, omnipresente. Portanto, não há a beleza apolínea (que o dionisíaco supõe). Tal significa, percebo-o agora, que a minha taxionomia inicial deveria incluir uma terceira categoria: o dissonante (o apolíneo só com o belo, o dissonante só com a dissonância e o dionisíaco com a alternância de ambos).
Na realidade, de uma forma mais ou menos consciente, lidamos com duas atitudes (pegando na dicotomia inicial) mentais face à música, em particular, e face à arte, em geral (embora tal seja mais visível na música). Uma focaliza-se na obra de arte. Outra, na sua produção.