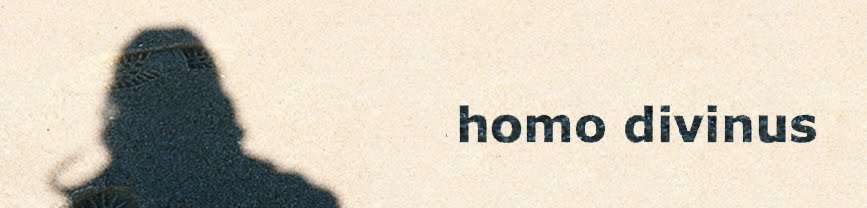Perguntaram-me porque é que eu embirrava com o Carnaval. E eu apresentei três razões.
Em primeiro lugar, e talvez acima de tudo, porque odeio o travestismo. Como já expliquei múltiplas vezes, gosto que as pessoas assumam o que são e não se façam passar pelo que não são. Não é, de todo, um problema confinado aos homens que se mascaram de mulheres (o que não deixa de ser de um ridículo atroz). É muito mais do que isso. Nós somos pressionados a usar máscaras no dia-a-dia. Por isso, não precisamos de um dia para o fazer. Antes deveríamos ter um dia para sermos a totalidade do que nos habita, do que somos. Ou seja, temos de reconhecer que, infelizmente, a fantasia já abunda no modo como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia: frequentemente evitamos a procura da verdade, ou a reflexão sobre o que está certo e o que está errado, para procurar abrigo no politicamente correcto, nas normas ensinadas pela tradição ou, simplesmente, no ideal-tipo que elaborámos a nosso respeito. Não precisamos, assim, de um dia com mais fantasia ainda. E mais mentira e faz-de-conta.
Em segundo lugar, é regra, no Carnaval, as pessoas encontrarem um modo de divertimento que incomoda os outros. Existe a velha máxima “É Carnaval, ninguém leva a mal”. Por isso, os “carnavaleiros” aproveitam para transgredir e, muitas vezes, fazer o que não é possível noutra altura. E essa transgressão pode ser grave, nomeadamente nos abusos de índole sexual que os homens exercem sobre as mulheres. De qualquer maneira, a coisa já é incomodativa mesmo sem esses excessos: há o hábito de fazer barulho, molhar, provocar cheiros, sujar (nem que seja com “papelinhos” ou serpentinas), assustar, etc.. Por outras palavras, o Carnaval é a institucionalização da possibilidade de causar dano aos outros contra a vontade destes. E eu sempre me perguntei: porque é que o prazer dos outros tem de colidir com o meu? Ou seja, dito de uma forma mais prosaica, porque é que esta gente se diverte a chatear os outros? E onde está a minha liberdade “sagrada” de não querer brincar ao Carnaval e não querer ser incomodado? É que o “É Carnaval, ninguém leva a mal” deve ter limites: eu não posso dar, na brincadeira, um tiro num desgraçado qualquer. Portanto, quem define o limite da transgressão? Em suma, o que me irrita é o descontrole, a ausência de deveres básicos sem os quais não concebo a vida em sociedade e, muito menos, qualquer prazer de aí viver.
Finalmente, acho completamente ridículo uma pessoa divertir-se por encomenda. Com se a alegria fosse algo programável, do género: “hoje decidi que vou estar muito contente”. É um pouco o mesmo que sinto na passagem de ano. Ora, a minha maneira de ser conduz-me logo ao oposto: quando me tiram uma cadeira, tenho logo vontade de me sentar. Por isso embirro com o divertimento obrigatório nesse(s) dia(s) específico(s).
Mas ainda me irrita mais outra coisa: a constatação, natural a partir do que disse acima, de que todas essas pessoas, que sorriem de orelha a orelha e dançam em delírio, estão a agir com superficialidade. Ou mesmo a fingir. Ou a fazer uma grande representação teatral (cada um que escolha onde melhor se encaixa). Ou, então – o que é muito pior –, são autómatos de sensibilidade comandada pelas instruções do calendário.